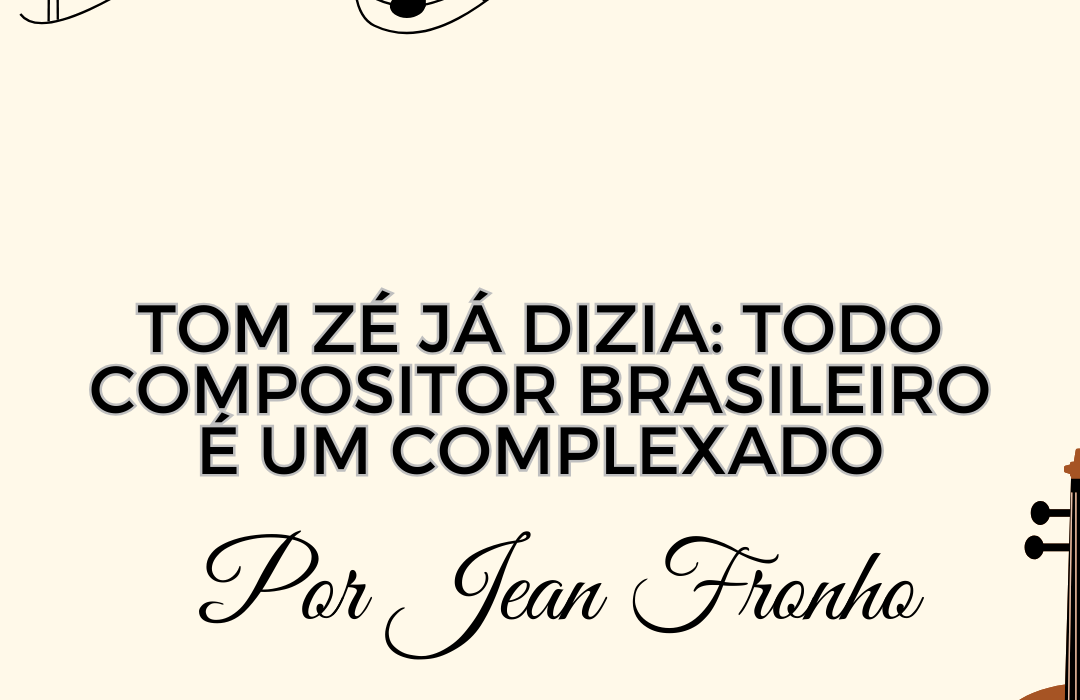O álbum “Todos os Olhos”, lançado em 1973 pelo cantor e compositor Tom Zé, traz a seguinte provocação logo em sua primeira faixa: “o compositor brasileiro é um complexado”. Essa afirmativa é o refrão de “Complexo de Épico”, música de autoria do próprio Tom Zé, e que abre o disco cujo teor polêmico já começa pela capa. O compositor baiano Tom Zé foi um dos principais representantes do Tropicalismo, movimento cultural brasileiro que despontou na década de 60 tendo como tônica a cultura pop, aliada a elementos do rock e do concretismo. “Todos os Olhos” é uma obra bem representativa desse movimento que revolucionou a música brasileira, e não o fez sem gerar alvoroço tanto no público quanto na classe artística.
Na música mencionada, o complexo do qual padece o compositor brasileiro, segundo Tom Zé, seria o de “Épico”. Evidentemente, o trocadilho alude ao termo “Complexo de Édipo”, extremamente significativo na obra de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. De acordo com a teoria freudiana, todo ser do sexo masculino, quando criança, se apaixona, ainda que inconscientemente, pela própria mãe, a qual se torna sua primeira e principal referência de feminilidade a ponto de deixar marcas perenes em sua existência. O nome da teoria de Freud, por sua vez, remete ao mito de Édipo, célebre personagem da mitologia grega que, sem saber, casa-se com a própria mãe, Jocasta. A história tem um trágico desfecho: Jocasta se suicida e Édipo fura os próprios olhos. Já no caso do compositor brasileiro, seguindo a lógica tonzeniana, trata-se de uma atração reprimida pelo épico [que descreve em versos os feitos heroicos], ou seja, por um gênero artístico que evoque atos heroicos e marcantes, colocando, assim, os artistas como verdadeiros heróis da sociedade. Analisando a letra da canção, entende-se que isso ganha contornos mais gerais, que acabam apontando para uma espécie de seriedade afetada ou presunção. Pelo menos é o que fica sugerido no trecho: “Por que então esta mania danada / esta preocupação / de falar tão sério / de parecer tão sério / de ser tão sério / de sorrir tão sério / de chorar tão sério / de brincar tão sério / de amar tão sério?”.
Sério – sério – sério
A massiva repetição da palavra “sério”, ao mesmo tempo em que dá a indicação de como tal complexo se manifesta no compositor brasileiro, é também uma forma de causar certo tédio e monotonia. Os versos acima pintam o estereótipo do criador musical do Brasil como alguém que goste de transparecer um ar sisudo e grave em toda e qualquer situação. Com efeito, parece ser mesmo essa a imagem que predomina no imaginário do povo. Geralmente quando se fala em compositor, é muito mais natural que se pense em alguém compenetrado, atento a partituras, debruçado incansavelmente sobre algum instrumento musical e tentando extrair a mais bela melodia, criar a mais sofisticada harmonia e compor o mais rebuscado verso. Ou seja: ser um compositor com C maiúsculo, um compositor de verdade, não significa dizer qualquer coisa, de qualquer jeito, banalidades. É ter algo profundo e rebuscado para dizer. É também ser um pensador e não apenas uma espécie de “animador”.
À determinada altura da música, Tom Zé se pergunta: “E por que então esta vontade / de parecer herói / ou professor universitário / (aquela tal classe / que, ou passa a aprender com os alunos / – quer dizer, com a rua – / ou não vai sobreviver)?”. No trecho em questão, além de recorrer à debochada comparação entre o compositor e o herói ou o professor universitário, o músico baiano faz uma sútil crítica que parece apontar para a relação de dependência que o músico tem para com o público. Assim como o professor universitário não sobrevive se não passa a aprender com seus alunos, o compositor não tem sucesso se não pauta sua obra pelo gosto do público. Lembrando que, nessa ótica, assim como o compositor está para o professor, o público está para os alunos, ou seja, aqueles que, em tese, são os que “têm muito a aprender”.
A crítica de Tom Zé não pode ser desvencilhada do contexto na qual foi produzida: o tropicalismo, que, tendo também como expoentes Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Torquato Neto e Os Mutantes, ficou marcado por uma aguda crítica a certa rigidez e marasmo da música popular brasileira, na qual a revolucionária Bossa Nova já não parecia mais tão revolucionária assim. Os tropicalistas queriam revolucionar no som, nas letras, nas vestimentas e nos instrumentos. A típica imagem do cancioneiro popular como um seresteiro ou um poeta divagador cedia espaço à irreverência de um mundo já marcado pela revolução dos costumes, pela consolidação do rock, pelo desenvolvimento da cultura pop e pela afirmação da cultura de massas, na qual o grande público dita o gosto sem muito refinamento. Na concepção de Tom Zé, o compositor brasileiro era ainda um eco do barroco, parecendo negar as então mais recentes consequências da vida urbana.
Vamos para a história de ser tão sério
Se fôssemos fazer uma espécie de “rastreamento histórico” do perfil apontado por Tom Zé, aonde chegaríamos? Anacronismos à parte, é possível dizer que essa característica tem raízes já à época do período colonial. Nesse sentido, estaríamos falando de uma seriedade que, com certa facilidade, mistura o solene ao dramático. Deve-se ter em mente, entretanto, que, considerando-se que fomos colonizados por europeus, e que mesmo após nossa independência continuamos significativamente influenciados pela Europa (e, posteriormente, pelos Estados Unidos), noções como “formal” e “informal”, “culto e inculto”, “erudito” e “popular”, “civilizado” e “selvagem” foram intensamente moldadas pela visão de mundo do que se costuma chamar de elite do “mundo ocidental”. Portanto, falar que o som de tambores africanos ou que pinturas e vestimentas indígenas seriam sinais de exotismo e informalidade frente ao formalismo da vida palaciana europeia transplantada para o Brasil é já um modo enviesado de enxergar as coisas. Isso quer dizer que seria um reducionismo associar uma espécie de “seriedade musical” brasileira às suas raízes portuguesas, ao mesmo tempo em que se relaciona certa anarquia às suas matrizes afros e indígenas. Até porque, é possível encontrar certo ar grave, num misto de melancolia e resistência, nas linhas musicais africanas e indígenas existentes no Brasil, assim como se pode encontrar uma marca de deboche em nossas influências lusitanas.
No início do Brasil, a música considerada “de respeito” estava ligada à cultura europeia, tanto nas suas expressões religiosas (sobretudo católicas), quanto na reprodução de músicas clássicas. No âmbito popular, prevalecia o sincretismo entre europeus, africanos e indígenas, o que, ao longo da história, se manifestou tanto em gêneros mais espontâneos como o lundu, a umbigada, o baião, e o maxixe; quanto em estilos com pretensões de maior rebuscamento, como a modinha, o choro e a bossa nova. É claro que, no fim das contas, não se trata de uma questão de gênero musical, mas de um jeito de ser, um estilo de vida, o qual ainda que possa se expressar melhor em uma ou em outra forma musical, é, antes de tudo, um modo de enxergar o mundo. Certa tristeza comum às três etnias predominantes no Brasil conferiram um tom melancólico à nossa música, uma dolência que nos é característica. O imaginário triunfalista e guerreiro, também construído pela junção desses três povos, resultou numa tônica heroica ou, talvez, “épica”. A isso, acrescenta-se a “cultura do diploma”, tão comum ao nosso povo. O sujeito tem que “estudar pra ser doutor”, tem que ter um diploma. Já o músico, sobretudo popular, vai na contramão: para a sociedade como um todo é um “vagabundo”, que quer ganhar a vida fácil, mas vai morrer na miséria. Talvez por isso, o que antes era simples expressão de vanglória ou melancolia de nossa cultura, tornou-se, com a profissionalização do ofício de músico na época de ouro do rádio, uma espécie de autoafirmação. O músico tem algo sério a dizer. E, talvez por ninguém acreditar muito nisso, eis mais um motivo para ele se mostrar sério.
A impostação de voz dos cantores do rádio brasileiro, que tanto sucesso fizeram, sobretudo na primeira metade do século XX, revela o gosto pela solenidade, por certa gravidade, o que não deixa de ser uma aproximação da ópera. Nessa esfera, o sério e o melancólico se misturam. Só não há espaço para o escracho. Com o surgimento da Bossa Nova no fim dos anos 50, essa sisudez ganha certo ar de renovação, de leveza. Porém, ainda se mantinha certo lirismo, e com um acréscimo de intelectualidade. Tom Jobim havia cursado arquitetura. Vinícius de Moraes, antes de sagrar-se como músico e compositor, era escritor, poeta e diplomata. A geração herdeira deles – considerada a da “MPB cabeça” – se desenvolveu e deixou seu legado em um ambiente universitário, como foram os casos, por exemplo, de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Edu Lobo. De certo modo, a impressão é que o compositor brasileiro digno desse nome é quase um “intelectual que, por acaso, é músico”.
Surgiram reações a essa condição
Dentre elas, como vimos, está o tropicalismo. O rock brasileiro também seguiu essa linha, tanto no seu surgimento quanto nos anos 80. A “Jovem Guarda”, ainda que não tenha assumido uma postura abertamente combativa, foi também uma maneira de não seguir a linha refinada e buscar a contestação por meio de uma revolução estética. Porém, o que se nota é que esses ritmos não estão isentos também de certa seriedade afetada. Caetano Veloso e Gilberto Gil, ícones e idealizadores da Tropicália, são, aos olhos da maioria dos brasileiros, parte do grupo dos “músicos sérios”, assim como seu movimento está mais próximo da arte metida a “intelectual” do que da música da avacalhação. O rock, por diversas vezes, deixou de ser uma simples e pura anarquia para se traduzir em forma de protesto político, crítica social ou lirismo existencialista. Afinal, se estamos falando de uma situação da música brasileira, qualquer gênero nela inserido irá refletir, em maior ou menor grau, essa característica.
Ironicamente, talvez nem o próprio Tom Zé escape dessa condição. Apesar da postura pouco convencional, de quem parece não ter a mínima pretensão de parecer sério, a verdade é que, no atual estado de massificação cultural, Tom Zé é visto como um “músico intelectual”, irreverente, porém, com uma irreverência forçada. Ao debochar do complexo do sério compositor brasileiro, estaria ele sendo sério demais? Ao dirigir uma crítica ácida a certa condição da música brasileira, não estaria ele, a seu modo, um pouco complexado? Não estaria atribuindo gravidade demais a algo que não deveria passar de entretenimento? Ou não haveria como fazer arte sem certa dose de complexo, de incômodo e de insatisfação, ainda que isso se traduza de forma despretensiosa? Querer encontrar respostas exatas a todas essas perguntas talvez implicasse dizer que articulistas brasileiros também são complexados. O fato é que as músicas estão aí para serem ouvidas; os textos para serem lidos. E tudo pode ser muito complexo. Ou não.
Artigo escrito por Jean Fronho em 2018 e editado por Matheus Luzi no mesmo ano
Confira a letra na íntegra:
Todo compositor brasileiro
é um complexado.
Por que então esta mania danada,
esta preocupação
de falar tão sério,
de parecer tão sério
de ser tão sério
de sorrir tão sério
de chorar tão sério
de brincar tão sério
de amar tão sério?
Ai, meu Deus do céu,
vai ser sério assim no inferno!
Por que então esta metáfora-coringa
chamada “válida”,
que não lhe sai da boca,
como se algum pesadelo
estivesse ameaçando
os nossos compassos
com cadeiras de roda, roda, roda, roda?
E por que então esta vontade
de parecer herói
ou professor universitário
(aquela tal classe
que, ou passa a aprender com os alunos
– quer dizer, com a rua –
ou não vai sobreviver)?
Porque a cobra
já começou
a comer a si mesma pela cauda,
sendo ao mesmo tempo
a fome e a comida.